Ano fértil, aquele 1958. Brasília em construção, a bossa nova chegando, orquestras a pleno vapor, e Casé numa fase especialmente agitada. Grava com Mazzuca, no Rio, o LP Baile de Aniversário, que estoura com a faixa Tequila. Em São Paulo, grava Coffe and Jazz com o Brazilian Jazz Quartet, liderado pelo pianista Moacyr Peixoto. Rubens Barsotti e Luiz Chaves, os outros integranters, fundariam o Zimbo Trio na década seguinte, com Amylton Godoy ao piano. O disco, produzido por Roberto Corte Real, granha destaque na imprensa. Traz uma série de standards - entre eles Don't Get Around Much Anymore e Too Maverlous for Words -, com arranjos feitos "de ouvido", segundo o texto da contracapa, assinado por Eduardo Baptista da Costa.
Ainda em São Paulo, por onde andava a banda de Woody Herman, Casé junta-se ao baixista Major Holley e ao baterista Jimmy Campbell para uma canja na boate Michel. Com eles, Moacyr Peixoto, uma alma alma enorme, ouvido afiadíssimo, sobrinho de Nonô – o sempre lembrado pianista da geração de Noel e Chico Alves. No dia seguinte, Corte Real põe os quatro num avião até o Rio. Entram no estúdio da Columbia sem arranjos escritos para as sete faixas – entre as quais Rough Ridin, Easy to Love, um blues de Holley, outro de Peixoto e Copacabana, de Alberto Ribeiro e Braguinha.

Sete horas depois estava concluído The Good Neighbors Jazz, trabalho só interrompido pelas idas de Campbell ao banheiro, de onde saía chapado de heroína. Choveram elogios, os primeiros saídos não da boca, mas da mão direita de Holley. Naquela rápida passagem pelo Brasil, ele não teve tempo de aprender sequer rudimentos da Flor do Lácio. Para responder aos técnicos do estúdio se havia gostado da experiência, Holley dizia “OK”, levantava o polegar e apontava para Casé – que, por sua vez, confessaria a alguns poucos sua opinião sobre o resultado do trabalho:
– Uma merda.
Ninguém concordou. Excessivamente severo consigo mesmo, ele era respeitoso com os colegas, por mais modestos que fossem. “São todos músicos”, reagia, diante das críticas feitas a orquestras que atravessavam má fase.
***
Mais músicos chegam à cidade*. Para inaugurar o La Vie en Rose, na Major Sertório, desembarca o conjunto de Breno Sauer, de Porto Alegre.*
De Buenos Aires vem em turnê a orquestra de Roberto Inglez, com um tenorista que chamaria a atenção de Casé. Seu nome: Hector Costita, levado por Chu Viana para a Baiúca, onde se revezavam os pianistas Moacyr Peixoto, Walter Wanderley e Pedrinho Mattar. Casé apareceu por lá, deu canja, tornou-se amigo do argentino. Meses depois, levou-o para tocar na orquestra de Elcio Alvarez.
Com leite e biscoitos, que carregava até para o palco, Casé tentava acalmar as crises de gastrite. Ao primeiro sinal de melhora, retornava às atividades etílicas. A doença evoluiu para uma úlcera. Ambos – a úlcera e ele – conviveram às turras, até o almoço do Natal de 1970. Casé fazia questão de preservar o ritual em família. Como acontecia em todos os dias 25 de dezembro, ele se sentou à mesa com os pais, os irmãos e um convidado – o percussionista Santos - diante de travessas de cabrito, leitão à pururuca, pernil, frango recheado, farofa, maionese e salada. Antes de começar a comer, levantou-se, apoiou-se no espaldar da cadeira, respirou fundo, levou a mão à barriga e começou a suar frio. Dalva, a irmã mais velha, levantou-se e correu para o Hospital Cruz Azul. Voltou com uma ambulância, que levou Casé para a Santa Casa, na Rua Cesário Mota.
No Pronto Socorro, o médico avalia o caso e comunica: “Vamos ter que abrir”. O paciente diz que não pode ficar no hospital, tem muito trabalho para fazer lá fora. Dalva, conhecedora da rabugice do irmão, fecha os olhos e recorre a São Judas. Feita a cirurgia, Casé ficou 11 dias internado e em seguida, por recomendação médica, restringiu o cardápio a macarrão com molho de tomate sem casca, carne grelhada, pudim de pão e outros clássicos da frugalidade. Da internacão à convalescença não saiu do seu lado a namorada, Eliana, loira, bonita, aeromoça de rotas internacionais. Dialogavam com entusiasmo, estavam mutuamente encantados. Em casa, ele às vezes deixava escapar:
– Com essa eu casaria.

Para o gosto dela, demorou demais a se decidir. A comissária voou para os bracos de um diplomata e ainda mandou o convite para a festa. Foi doloroso para o ex. Mas, mesmo antes do episódio, apesar das paixões que despertou, parecia carregar disposição para a solteirice. Em 52, o bigodinho à Rodolfo Valentino e a pinta acima do canto esquerdo da boca atraía olhares e arrancava suspiros das moças. Ainda antes, na orquestra da Tupi, os músicos percebiam que a filha do violinista Fego Camargo – a cantora Hebe, uma iniciante – arrastava uma asa considerável em direção à estante do primeiro sax alto.
De Bagdá a São Paulo, outras cantoras tentariam flechar aquele coração arredio. Sossegar com uma namorada? Improvável. Mais ainda casar, ter filhos e tudo mais que remetesse ao padrão morno de classe média, de uma suposta estabilidade burguesa. Casé cresceu e viveu num tempo de boemia em ebulição, das girls dos dancings, as zonas do interior, a urbanização que explodia, novidades de Hollywood, tudo solto, jazz, improviso. As namoradas em Assis e Araxá, a camareira de Buenos Aires, as noites na Vila Maria, amores breves. O voyeur equipado com luneta em Poços de Caldas, as calcinhas envolvendo o sax no estojo de couro forrado com veludo e costurado com capricho pelo velho Godinho, o andar ritmado da normalista de saia plissada e esvoaçante que passa pela Rua da Glória. Imagens, prazeres, a vida em transformação, grana para comprar e dirigir um Fusca em alta velocidade pela Serra da Mantiqueira, para comprar carro importado – um Buick verde, um Oldsmobile conversível e azul deslizando no comecinho da noite pela pista larga da Rebouças, com Ratinho, Eugênio Leme e Sergio Alvarez, que, entre tragadas profundas num cigarro artesanal, solta o bordão que vive a repetir com o erre gutural: “Lógico, meu amorrrr”.
Um tempo de muito trabalho, música para ouvir nos inferninhos e boates, que de uma década para outra se reproduzem na Praça Roosevelt e na Major Sertório. Música para dançar nos salões, noites atravessadas em claro com a ajuda das bolas – Pervitin, Dexamil, as mais consumidas. Maconha? Também tinha. “Pra tocar não funciona. Deixa a boca dormente”, foi o comentário de Casé a Maguinho.
No Cambuci está mantido o porto seguro dos Godinhos. A comida e a roupa limpa e passada de que se encarregam dona Isabel e Dalva, capazes de detectar o estado de espírito e traduzir o silêncio de Casé. Um resmungo matinal, e Dalva já sabe: ele quer ovos quentes. Em casa não é preciso falar o tempo todo de música e músicos, assim como é possível ouvir o que quiser. Brahms, por exemplo. Em casa dá para estudar, dá para escrever arranjos de madrugada, quieto. De casa se pode sair a qualquer hora para qualquer lugar. Itapetininga, digamos - para alegria do pessoal da orquestra Nelson de Tupã, contratada para animar o baile. É só pedir emprestado o alto do maestro e tocar até o fim da noite. E por que não descer a Anchieta de táxi até as boates da General Câmara, na beira do cais de Santos? Dar canja, comer, beber, farrear, de surpresa cutucar com dois dedos um vão da costela do interlocutor e sorrir:
– Mas, porra, madame...
Trabalho não falta. Se faltar, é só correr de volta para a orquestra do Padrinho – é assim que ele chama Elly, o amigo da família com quem pode contar nas horas de aperto, embora, para desespero do maestro, a qualquer momento Casé possa ausentar-se de um compromisso.
– Dona Isabel, que é que eu faço? Quando acho que ele está firme, ele sai da orquestra.

E onde está Casé enquanto a orquestra vai em frente, desfalcada do seu principal solista? Pode estar em casa, fugindo da madrugada fria. Talvez no Club de Paris, lá no Centro, ou, na zona sul, ao lado de Carlos Conde, grande jazzófilo, na casa do publicitário e guitarrista Ismael Campliglia, com Dick ao piano. Pode estar, ainda, com os trombonistas Renato Cauchioli e Gilberto Gagliardi, gravando ao clarinete trilhas escritas por Radamés Gnattali e Guerra-Peixe para filmes da Vera Cruz. A não ser que esteja apresentando a noite paulistana a músicos franceses que serão levados ao sobrado do Cambuci para jantar polenta e rabada com salada de agrião.

Por décadas Casé vai e volta para a orquestra de Elly. Se desaparece, pode estar no auditório da Folha, improvisando freneticamente nas Noites de Jazz produzidas por Lenita Miranda de Figueiredo. Ou, ao clarinete, transformando-se em chorão de pura cepa num baile do grêmio do Colégio Rio Branco. Olhe lá se não estiver no Clube dos Amigos do Jazz, o Camja, dividindo a cena com Sadao Watanabe, ou no Clubinho dos Artistas, ali na Bento Freitas, deixando paralisados os boêmios de plantão com sua interpretação de Night in Tunisia. Isso tudo se não estiver tocando com Johnny Mathis no Copacabana Palace – o que não o impede de aproveitar uma noite de folga para entrar num inferninho paulistano. Por exemplo, o Teteia, inaugurado em 1959, na esquina da Major Sertório com Araújo. Ali se tocava jazz. No sax e clarineta, Kuntz Neegle, ex-líder do conjunto Os Copacabana; Luiz Melo, piano; Nilton de Siqueira Campos, baixo, e Edilson, bateria. Lugar de canjas antológicas – de Casé, de Gato Barbieri, de Costita, Maciel, Cipó, Johnny Alf – e de brigas controladas pelo proprietário. Neco, ex-estivador, ex-porteiro de boate, massudo, de fala mansa, apertava até quase esmagar o braço dos mais exaltados enquanto advertia com a voz melodiosa: “Cavalheiro, o sr. está perturbando o ambiente”.
* Breno Suaer (acordeon), Gabriel Bahlis (baixo), Alemão (guitarra), Garoto (vibrafone) e Afonso Cid (bateria).

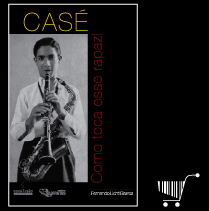

Nenhum comentário:
Postar um comentário