No Carnaval de 1978, o respeitado saxofonista e arranjador Cangaceiro repartiu sua orquestra Réveillon repartiu-se em duas formações. Ambas mesclavam músicos de larga experiência com principiantes. Casé, escalado para um dos grupos, foi para Catanduva, tocar ao lado de Bocato, trombonista em início de carreira. Em São Carlos, os veteranos Cangaceiro, Waltinho e Cilinho perfilaram-se com dois irmãos adolescentes, o saxofonista Gerson Galante e o trompetista Junior.
Encerrado o trabalho, um ônibus com os músicos saiu de Catanduva e passou em São Carlos para resgatar a segunda turma. Foi uma festa quando os dois grupos se juntaram. Um vozerio tomou conta do ônibus. Mas toda vez que Mara, a mãe de Gerson e Júnior, se manifestava, alguém lá de trás vinha com uma provocação.
– Dona Mara, sua garganta não dói, não?
Bastava ela voltar a fazer um comentário qualquer para ouvir nova reprovação de Casé em tom jocoso:
– Dona Mara, cuidado pra não perder a voz.
Semanas depois, indicado pelo saxofonista Cangaceiro, ele se tornou professor de Gerson. Mara e o filho de 12 anos saíram de casa, em São Bernardo do Campo, a tempo de chegar no prédio da rua Mario Ferraz na hora combinada, duas da tarde de uma terça-feira de março. Nas aulas, que se estenderam até o fim de junho, deu-se relevância à respiração. Gerson logo estaria no Clube Homs ao lado do mestre, como quarto tenor da orquestra de Elly, junto com outros jovens músicos – entre os quais Hélio Ramiro, o mesmo que ia ouvir as orquestras do Avenida.
Verdade que às vezes Casé não aparecia naqueles bailes dominicais de fim de tarde. Num dia frio, almoçou, deitou-se no sofá e puxou um cobertor. Isabel estranhou:
– Não vai trabalhar?
– Vou nada. Tem gente lá que pode fazer no meu lugar.
Em compensação, era comum oferecer à orquestra arranjos bonitos, simples, orgânicos. Música pra dançar – Rapsody in Blue em ritmo de samba e o tema da série Swat, por exemplo. Ou Stardust, com uma bem-humorada recomendação a um solista, apreciador das propriedades da cannabis: “Sem fumo”, escreveu na partitura.

Entre aulas e bailes, Mara e Casé se aproximaram. Ele ganhou uma protetora e ela, um admirador que a convidava a acompanhá-lo ao trabalho, a passeios ou às duas coisas de uma só vez. Quando Silvio Mazzucca vendeu um baile em Santos, chamou Casé, que convidou Mara.
– Vamos antes, assim dá tempo de a gente comer um peixinho - ele propôs.
Mara topou. No apartamento da Mario Ferraz, onde ele a aguardava com o cabelo tingido de castanho escuro, ela apareceu levemente maquiada, de vestido solto e bota de salto.
– Mãe, olha como ela tá! - disse Casé. - Não vou, não.
Mara insistiu, lembrou o compromisso assumido com Mazzucca. Foi dona Isabel quem a fez desistir de tentar convencê-lo:
– Não adianta: quando ele fala que não vai, não vai mesmo.
Acertou. Ele riu:
– Vamos passear. Vamos pro Avenida.
Foram, ocuparam uma mesa e, para surpresa dela e da orquestra, ele a tirou pra dançar. Antes, teve o cuidado de se dirigir ao maestro e pedir um bolero. Na pista, confessou por que desistira de ir a Santos:
– Você acha que eu ia levar você, bonita assim, pro meio daquele monte de músico?
Desde a aeromoça que o trocou pelo diplomata, Casé, agora com 46 anos, não se dedicava tanto a uma mulher. Foi à casa de Tião, o irmão mais velho, para se aconselhar. Falou em criar juízo, parar de beber e casar com Mara, recém-separada. Ela se afeiçoava, enxergava nele um homem de alma infantil. Chegou a levá-lo para casa, queria cuidar dele, afastá-lo do álcool, servir-lhe café da manhã, levá-lo para trabalhar. Por quase um mês, conseguiu. Mas não era fácil manter Casé longe da família. Quando a mãe, a irmã e a sobrinha anunciavam uma viagem de férias a Santos ou Praia Grande, ele comemorava:
– Ah, agora vou ficar à vontade em casa.
Um, no máximo dois dias depois, chegava de mala e cuia à casa em que as três estavam hospedadas. Não desgrudava, agora ainda mais: além de Isabel, havia a pequena Vanessa, com seis anos. O tio se derretia por ela, presenteava-a, levava-a a passear na Brasília de Marly, ia vê-la pela grade do Colégio Imaculada Conceição, na Cincinato Braga.
Seu compromisso familiar consistia em pagar o aluguel. O dinheiro restante, torrava.
– Cuidado com o seu dinheirinho – advertia Marly.
– Que dinheiro? Já foi – ele respondia.

Enquanto isso, repetia queixas sobre o Oba-Oba, especialmente sobre os prejuízos causados pelo ar condicionado à sua garganta. Queria parar. Os companheiros mais próximos notavam nele traços do desconforto. Tocando, a postura revelava descuido até então inédito. Surgia agora um Casé acabrunhado. Uma noite, guardou o Selmer no armário do camarim e saiu sem dizer nada. Ditinho observava à distância, e, porque sabia decifrar os humores do amigo, antecipou aos colegas:
– Ele não vai voltar.
Casé e família haviam trocado o apartamento da Mario Ferraz por outro, na rua Botucatu, Vila Clementino. Em casa, logo o ambiente ficou tenso. Casé e Marly se desentendiam, ela cobrava as promessas dele de evitar o martini, de manter o aluguel em dia e estabilizar-se no emprego. Ele vinha dormindo mal, emagrecia, o que, a rigor, nem chegava a ser novidade. Em meio a uma troca de farpas, Marly lançou o desafio:
– Ou você toma prumo ou um dos dois sai de casa.
Quem saiu foi ela, rumo à casa de Palmira, uma amiga do Cambuci. Voltou três dias depois, após a intervenção de dona Isabel. Não houve acordo entre os irmãos. Ela saiu de novo. Aí, Casé resolveu conversar com dona Isabel. Apoiou os cotovelos na mesa da cozinha e, passando as mãos no cabelo, anunciou:
– Vou sair, mas não vou me afastar.
Mudou-se para o Hotel Luiz de Camões, num prédio pequeno e envelhecido da Rua Aurora. Instalou-se num apartamento com uma cama de casal, uma de solteiro, um criado-mudo e um guarda-roupa. Agora, tinha à sua volta todo o centro de São Paulo. Não era mais o centro festivo que conhecera nos anos 50 e 60. Era uma área decadente, de construções malconservadas, em que ao fim do dia o comércio cedia lugar a um submundo habitado por putas, proxenetas, alcaguetes, traficantes, tiras corruptos, a bandidagem em todos os seus ramos. Era a Boca do Lixo.

Casé levava a roupa para lavar e passar na casa da mãe. Às vezes pedia um chá, dizia-se indisposto, se queixava do estômago. De resto, em fase de pouco trabalho, passava o dia no hotel da Boca. Lá deu aulas às terças e quintas-feiras, às 10 da manhã, para Amendoim, saxofonista baiano de Rio de Contas, que em 58 tocara com Godinho na orquestra de Milton do Acordeom, em Santo Anastácio.
Foram quase quatro meses de convivência. Quando Amendoim chegava, Casé estava fazendo exercícios com a clarineta enfiada no guarda-roupa, que forrava com travesseiros para o som vazar menos em direção aos vizinhos. Dizia ter saído de casa para estudar sem incomodar a mãe, que andava adoentada. E mais: que se preparava para viver no Exterior. Na bagagem levaria quatro ternos. Amendoim foi com ele a uma alfaiataria onde tirou as medidas. Emprestou-lhe um Selmer, com o qual Casé andou trabalhando. Ouviu dele lembranças do pai, comentários sobre palhetas, sobre a importância de estudar em tons desconfortáveris, um pedido (“Minduim, cê me arruma um dinheiro?”) e uma recomendação que parecia fazer a si mesmo após mostrar litros vazios deixados na sacada.
– Preciso tirar essas garrafas. Tem uma mulher aí – disse, apontando para o outro lado da mureta que separava o seu apartamento de um outro.
***
Numa noite do fim de outubro, Casé encontrou-se com Clécio Fortuna, amigo desde Assis, que se integrara à banda de Roberto Carlos. Deu-lhe o telefone do hotel Luiz de Camões.
– Quero estudar harmonia com você - disse Clécio.
Por desencontros de agenda, não conseguiram marcar aula. Baterista da boate Stardust, Semifusa teve mais sorte. Tocava também saxofone, e havia sido aluno de Casé no primeiro semestre, à época de Gerson. Semifusa passara a tocar melhor, mas as excursões com Jair Rodrigues o afastaram das aulas. Um dia, apareceu no Luiz de Camões.
– Pô, por onde cê andou? – perguntou Casé com a porta semiaberta.
Mais duas aulas, e Semifusa voltou às viagens. O professor continuou nas imediações do hotel, perto das lojas da Santa Efigênia. Foi ali, quase esquina com a Rua Aurora, que em novembro encontrou-se com Shioda, ex-baixista do seu conjunto na década de 60. Não se viam fazia três anos.
– Que cê tá fazendo por aqui?
– Comprando peças. Agora tenho uma oficina de consertos eletrônicos. E você, pescando no interior? – perguntou Shioda.
– Não, eu moro ali, ó – e Casé apontou para uma janela do primeiro andar do Luiz de Camões.
Foi para lá que rumaram Ditinho e o guitarrista Ayres uma noite, após o show do Oba-Oba. Ele estava em frente, num bar. Era uma espelunca.
– Isso aqui é uma merda – Dito cochichou a Ayres.
Casé estava, no fundo do bar, numa roda com dois homens brancos e uma mulher negra. Avistou os amigos, bateu as mãos nos joelhos, com a coluna ligeiramente curvada. É assim que fazia diante das boas surpresas.
– Pô, me acharam – e gargalhou.
Apresentou Ayres e Ditinho à mulher.
– Minha amiga.
Aos dois músicos, o lugar pareceu pesado. Casé não demonstrava tristeza, especialmente agora, na companhia de Ditinho e Ayres. Estava bem vestido, penteado – apenas um pouco abatido e mais magro. Devolveram-lhe o sax velho que abandonara no armário do Oba-Oba.
– Viemos te buscar – arriscou Ditinho.
Ele sorriu, deu à conversa rumos mais divertidos. Atravessou a rua, deixou o instrumento na porta do hotel e voltou ao bar. Os amigos disseram que diariamente Sargentelli perguntava por ele.
– Não vou mais, não.
Estava ambientado. Tinha amigos de bar, tinha o Avenida e o Ponto, ambos decaídos mas bem pertinho dali. No hotel, toda noite Sonia Braga chegava pela tevê. Era a tigresa da boate Dancig Days. Na novela não se dançava como no Avenida. Sonia deslizava em outro cenário, a discoteca, ao som de playback. O personagem Alberico, interpretado por Mário Lago, remetia a um Brasil nostálgico, e aí Dick Farney entrava cantando Copacabana, aquela mesma música gravada por Casé no disco The Good Neighbors Jazz. Vinte anos haviam ficado para trás.


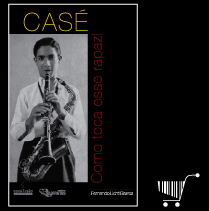

Um comentário:
uou!
Postar um comentário